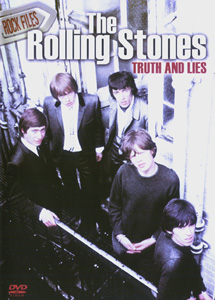Por AARocha
Lembrei-me de uma vez: eu, menino de 8 anos, estudava numa escola primária de bairro. Próximo do fim de ano, a professora começou a armar uma exposição com os trabalhos dos aluninhos. A mim sobrou fazer barquinhos de papel. Ela falou: mas precisa colocar o barquinho numa coisa que pareça água. Precisamos de um vidro. 'Fessora, tem um vidro em casa! Você mora perto daqui? Ali embaixo, 10 minutos. Então, vá buscar, sua mãe empresta? Esbaforido cheguei em casa no meio da tarde. Minha mãe quase desmaiou de susto. "Menino, qu’ocê tá fazeno aqui a essa hora?" Nada não mãe. Aconteceu alguma coisa? Nada não mãe, e adentrei o quarto dela. Na penteadeira tinha um porta retratos com o retrato da minha avó (um xodó da minha mãe). Desmontei, peguei o vidro e escondi debaixo da camisa. Saí correndo de volta pra escola sem minha mãe me ver. (O que a minha mãe pensou com a minha presença-ausência instantânea é coisa que nem hoje consigo imaginar). Quanto mais eu corria, mais aquela escola ficava longe. Tinha que atravessar um pontilhão, embaixo passava a linha do trem. Aí "garrei" a correr pra alcançar logo esse pontilhão. Depois dele, a escola ficava logo ali. Quanto mais corria, mais queria correr. E aquele pontilhão não chegava nunca. Afinal chegou. E eu correndo. Tropecei no calcanhar, caí (hoje me lembro que foi em câmara lenta), tentei proteger o vidro que se estilhaçou. Cortei a mão, sangrei, ralei o joelho, ralei o cotovelo. Puta que pariu! a escola já estava ali. Tinha que entrar. Entrei com a mão no bolso, o sangue escorria pela perna. 'Fessora, não tem mais vidro! Que aconteceu, menino? Nada não 'fessora. Comecei a copiar alguma coisa que estava na lousa. Meu Deus, o que eu estava fazendo ali?, se pudesse sumir...! Vertigem e sangue empapando o meu caderno Bandeirante. Não sei como sobrevivi a esse dia!
Acho que, para mim, esse episódio foi um rito de passagem para algum lugar que até hoje não sei precisar. E também não me lembro se eu contei pra minha mãe que eu quebrei o xodó dela. Não me lembro, apaguei... só me lembro do que relatei. Lembro-me de uma vez, anos depois, ela lamentar a ausência do vidro que ela chamava de “porta retrato”.
Lembrei-me de uma vez: eu, menino de 8 anos, estudava numa escola primária de bairro. Próximo do fim de ano, a professora começou a armar uma exposição com os trabalhos dos aluninhos. A mim sobrou fazer barquinhos de papel. Ela falou: mas precisa colocar o barquinho numa coisa que pareça água. Precisamos de um vidro. 'Fessora, tem um vidro em casa! Você mora perto daqui? Ali embaixo, 10 minutos. Então, vá buscar, sua mãe empresta? Esbaforido cheguei em casa no meio da tarde. Minha mãe quase desmaiou de susto. "Menino, qu’ocê tá fazeno aqui a essa hora?" Nada não mãe. Aconteceu alguma coisa? Nada não mãe, e adentrei o quarto dela. Na penteadeira tinha um porta retratos com o retrato da minha avó (um xodó da minha mãe). Desmontei, peguei o vidro e escondi debaixo da camisa. Saí correndo de volta pra escola sem minha mãe me ver. (O que a minha mãe pensou com a minha presença-ausência instantânea é coisa que nem hoje consigo imaginar). Quanto mais eu corria, mais aquela escola ficava longe. Tinha que atravessar um pontilhão, embaixo passava a linha do trem. Aí "garrei" a correr pra alcançar logo esse pontilhão. Depois dele, a escola ficava logo ali. Quanto mais corria, mais queria correr. E aquele pontilhão não chegava nunca. Afinal chegou. E eu correndo. Tropecei no calcanhar, caí (hoje me lembro que foi em câmara lenta), tentei proteger o vidro que se estilhaçou. Cortei a mão, sangrei, ralei o joelho, ralei o cotovelo. Puta que pariu! a escola já estava ali. Tinha que entrar. Entrei com a mão no bolso, o sangue escorria pela perna. 'Fessora, não tem mais vidro! Que aconteceu, menino? Nada não 'fessora. Comecei a copiar alguma coisa que estava na lousa. Meu Deus, o que eu estava fazendo ali?, se pudesse sumir...! Vertigem e sangue empapando o meu caderno Bandeirante. Não sei como sobrevivi a esse dia!
Acho que, para mim, esse episódio foi um rito de passagem para algum lugar que até hoje não sei precisar. E também não me lembro se eu contei pra minha mãe que eu quebrei o xodó dela. Não me lembro, apaguei... só me lembro do que relatei. Lembro-me de uma vez, anos depois, ela lamentar a ausência do vidro que ela chamava de “porta retrato”.